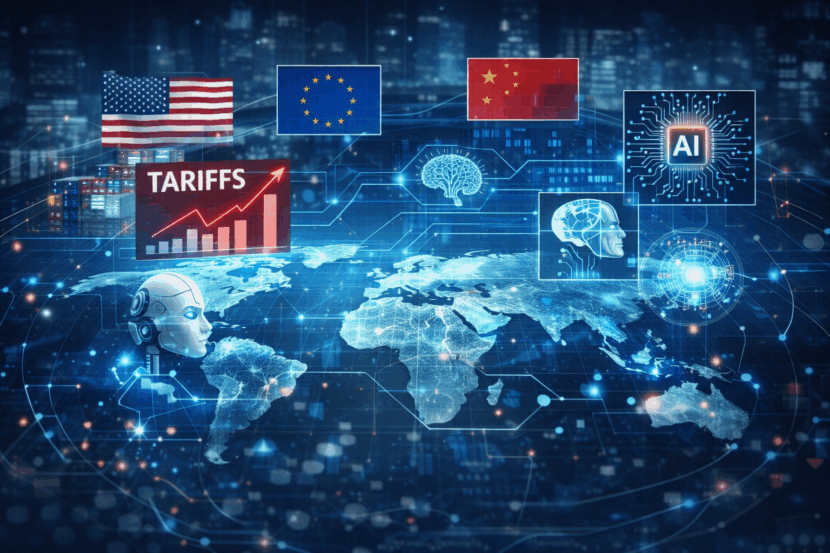A pergunta voltou ao centro do debate internacional após a ação dos Estados Unidos contra a Venezuela: a ONU ainda funciona como limite ao uso da força?
Para Dr. Diego Sales, advogado especialista em imigração e Relações Internacionais, o episódio não é isolado. Ele se insere em um padrão mais amplo, no qual grandes potências testam, contornam ou simplesmente ignoram os mecanismos multilaterais quando o custo político parece administrável.
Sob a ótica jurídica, Sales é direto: “o ataque dos Estados Unidos à Venezuela configura violação ao Direito Internacional”, porque a Carta das Nações Unidas proíbe o uso da força contra a soberania de outro Estado, salvo duas exceções: autorização explícita do Conselho de Segurança ou legítima defesa diante de ataque armado iminente.
“No caso concreto, não se verifica a presença de nenhuma dessas hipóteses”, disse. A conclusão é objetiva: houve uso não autorizado de força e violação de soberania.
A relevância do caso, porém, vai além do enquadramento jurídico. Ele ajuda a responder à pergunta que muitos formulam de forma menos técnica: se a ONU existe, por que ela não impede esse tipo de ação?
O desenho da ONU e o problema do veto
A Organização das Nações Unidas nasceu, em 1945, com um objetivo claro: evitar que conflitos entre grandes potências voltassem a produzir guerras de escala global.
Para isso, o sistema foi estruturado em torno do Conselho de Segurança, com cinco membros permanentes, Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido, dotados de poder de veto.
Esse desenho nunca teve como meta “impedir guerras” em sentido absoluto, mas administrar conflitos e evitar choques diretos entre potências nucleares. O veto é parte central dessa lógica. Ele garante que nenhuma decisão coercitiva seja tomada contra um dos grandes sem o seu consentimento.
O problema, como observa Sales, é que esse mesmo mecanismo “rebaixa, na prática, a capacidade do multilateralismo de conter escaladas” quando o próprio membro permanente decide agir fora do sistema. Nesses casos, a ONU não falha por omissão; ela é estruturalmente incapaz de reagir.
Na prática, quando um membro permanente está envolvido, o Conselho de Segurança tende à paralisia. Resoluções não avançam, autorizações não são concedidas e o debate se desloca para declarações, relatórios e sessões emergenciais sem efeito vinculante.
Da regra à exceção: quando agir fora da ONU vira opção
Para Sales, o caso Venezuela ilustra uma mudança de equilíbrio. “Quando a soberania deixa de funcionar como um limite operacional ao uso da força, o sistema internacional migra de um modelo baseado em regras para um modelo baseado em poder”, afirmou.
Essa transição não ocorre de forma abrupta. Ela se dá por acúmulo de exceções. Intervenções sem mandato explícito, operações justificadas por conceitos elásticos de legítima defesa, ações com componente econômico declarado e narrativas de “supervisão” ou “administração temporária” passam a coexistir com a retórica de respeito à Carta da ONU.
O resultado não é o fim formal da ONU, mas a sua descentralização prática. As grandes decisões de segurança deixam de passar pelo Conselho e passam a ser tomadas em círculos nacionais ou em coalizões ad hoc.
Direitos humanos justificam o uso da força?
Um dos pontos centrais do debate é o argumento humanitário. Sales reconhece que a ONU recebeu denúncias consistentes sobre “execuções arbitrárias, desaparecimentos forçados, tortura e violência sexual” na Venezuela, com missões internacionais confirmando violações.
Ainda assim, ele faz uma distinção clara entre constatação de violações e autorização para uso da força. “No âmbito das Nações Unidas, as respostas institucionais limitaram-se a relatórios, pressão diplomática, resoluções e recomendação de responsabilização internacional”, afirmou.
Ou seja, o sistema multilateral admite sanções, investigações e mecanismos de responsabilização, mas mantém o uso da força como exceção estrita. Quando um Estado decide ultrapassar essa linha sem autorização coletiva, cria-se um precedente operacional, ainda que não jurídico-formal.
Economia e energia: quando o discurso revela prioridades
Sales chama atenção para outro aspecto do episódio: o foco do discurso político. Segundo ele, a narrativa adotada não se concentrou em democracia ou direitos humanos, mas em “interesses econômicos”, sobretudo na possibilidade de empresas norte-americanas recuperarem ativos e retomarem a exploração e o fornecimento de petróleo.
Esse ponto importa porque a Venezuela possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Quando o controle de recursos entra no centro da justificativa, o precedente se torna mais fácil de replicar em outros contextos ricos em commodities estratégicas.
Na leitura do especialista, isso “estimula outros Estados a apresentarem pacotes de intervenção com componente econômico explícito”, deslocando ainda mais o sistema internacional de um padrão baseado em normas para um padrão baseado em conveniência estratégica.
A mensagem aos demais atores globais
Para além da América Latina, a ação envia sinais a China e Rússia. “Os Estados Unidos transmitem uma mensagem clara de disposição para atuar de forma unilateral”, disse Sales. O recado é que Washington está disposto a empregar poder militar e político mesmo sem respaldo do Conselho de Segurança.
Esse sinal tem dois efeitos. O primeiro é dissuasório, ao indicar limites à expansão de influência de rivais em regiões consideradas estratégicas. O segundo é sistêmico: incentiva outros atores a recalibrar suas próprias estratégias, inclusive com maior investimento em capacidades militares e alianças regionais.
A ONU perde relevância ou muda de função?
A leitura de Sales não é a de que a ONU “acabou”, mas de que sua função se estreitou. Ela segue relevante em áreas como ajuda humanitária, saúde, refugiados, mediação técnica e produção de informação. No campo da segurança coletiva entre grandes potências, porém, sua capacidade de imposição é limitada.
Esse cenário não é novo. Intervenções no Kosovo, no Iraque, na Líbia e na Síria já haviam exposto esse limite. A diferença, agora, é a frequência e a naturalização do desvio.
“Há sinais consistentes de maior tolerância internacional ao uso da força”, afirmou Sales, com uma ressalva: isso não significa ausência de custo. Estados que agem fora do consenso multilateral ainda pagam preços diplomáticos, reputacionais e econômicos. O que mudou foi o ponto de equilíbrio entre custo e benefício.
Impactos em mercados, investimento e previsibilidade
A erosão da previsibilidade institucional tem efeitos diretos na economia. Sales aponta quatro canais principais.
O primeiro é energia e commodities. Expectativas sobre oferta venezuelana afetam preços no curto prazo, enquanto riscos marítimos, seguros e logística adicionam volatilidade.
O segundo é o prêmio de risco em mercados emergentes. “Quando a norma de soberania enfraquece, investidores incorporam maior risco geopolítico”, o que pressiona moedas, juros e custo de financiamento.
O terceiro é a seletividade do investimento direto. Capital tende a priorizar países com estabilidade regulatória, alianças claras e menor risco de sanções, especialmente em setores como energia, mineração e infraestrutura.
O quarto é o contágio regional. Mesmo países não envolvidos podem sofrer reprecificação conjunta, porque gestores globais operam por blocos de risco.
Então, a ONU não funciona mais?
A resposta curta é: funciona, mas não como limite absoluto ao poder das grandes potências. O sistema segue operando, produzindo normas, relatórios e coordenação. O que ele não consegue fazer é impedir, de forma eficaz, que um membro permanente decida agir fora das regras.
Para Sales, o maior risco não é imediato nem econômico, mas institucional. “É o enfraquecimento da infraestrutura invisível que sustenta estabilidade: previsibilidade jurídica, respeito a fronteiras e mecanismos multilaterais.”
Quando essa base se desgasta, o mundo não entra em colapso, mas passa a operar com mais incerteza, e essa incerteza é precificada por governos, empresas e investidores.